O romance policial é um paciente com câncer

Ano passado, pouco antes de uma mesa-redonda com o filho do Simenon, Tony Bellotto e Raphael Montes, li um artigo que declarava a morte da literatura policial. Aquelas páginas vermelhas que, desde o século XIX, tinham matado tanta gente estavam definitivamente sepultadas. E sem direito a velório.
Na tal mesa-redonda, levantei a questão e quase fui apedrejado. O romance policial era Jesus Cristo e, na minha frente, havia ressuscitado. Estava ali em todo o seu esplendor. Hoje, quase um ano depois, me peguei refletindo sobre os acontecimentos e cheguei à seguinte conclusão: o romance policial é um paciente com câncer em estágio avançadíssimo, quase terminal. Sua salvação seria um milagre. Mas há médicos tentando manter o paciente longe das garras da morte. Há médicos que pensam em tirar aquela alimentação ruim, à base de qualquer-nutriente-tá-bom. Há gente que deseja trazer à vida plena o gênero literário mais cultuado de todos.
A alimentação ruim, obviamente, são os leitores. Nos últimos anos qualquer coisa vai bem para eles. Qualquer número #1 do NYT vai bem. Dane-se o protagonista ser um agente esportivo, dane-se o vilão do livro que o Scorsese vai filmar ser um camarada que deixa as pessoas enforcadas em cima de bonecos de neve que vão derretendo. Dane-se tudo isso. Fuck the logic. O importante é o page-turning frenético. Dane-se que no final a filha da puta volta para o cara que tanto a fez sofrer – e bolar um plano intrincadíssimo. A gente quer o NYT. A gente quer tudo que foi tocado por esse raio tenebroso que transformou a literatura policial numa coisa artificial, tão viva quanto alguém que está há anos em coma, respirando com aparelhos e almoçando papinha via sonda.
Faz muito tempo que eu não leio um romance policial DECENTE. Um romance policial atual, nada de Highsmith, Chandler, Hammett ou Christie. Estou falando de romance policial BOM. Daqueles que você, numa inconsequência estúpida, quer vivenciar o que os protagonistas – coitados! – vivenciam. Houve um tempo em que eu queria ter sido todos que tentaram parar o assassino do motel Bates. Houve um tempo que eu queria dar porrada, tomar uísque, levar porrada, comer meia dúzia de putas e chorar porque botei uma loirinha linda atrás das grades. No passado eu era Paulo Mendes e ziguezagueava com meu charuto pelos becos de Copacabana enquanto tentava livrar putas e travestis da cadeia. Hoje em dia eu só quero manter distância desses agentes secretos, desses assassinos nórdicos que matam de formas estapafúrdias e “desafiadoras”. Quero manter distância do policial bêbado que tem trinta romances e não é desenvolvido em nenhum deles, só resolve crimes como se fosse um episódio de CSI.
Eu quero a minha literatura policial de volta.
E vou até o fim para tê-la.
Um conselho: procurem Rubem Fonseca, Patrícia Melo, Raphael Montes, Fernando de Abreu Barreto, Flavio Carneiro. Todos esses são autores policiais. Nenhum deles se rendeu ao clichê. Seus personagens poderiam existir em qualquer cidade. São tão palpáveis que você se pergunta se são conhecidos dos autores. Ficou incomodado (a) porque só citei brasileiros? Vamos lá: Dennis Lehane, Cornell Woolrich, Patricia Highsmith.
Agora silêncio. Estamos no corredor de hospital. Aqui. Esse quarto. Vejamos o que há na cama. Um corpo respirando com aparelhos. Vê? Os médicos retiraram a sedação.
Ouve-se um rugido ao longe e no gelo do lençol, a figura abre os olhos.
Ainda que mal, ela está viva.
(Imagem: freemysoul)

Share this content:
Nasceu em 1994. É escritor e roteirista. Fundou a plataforma literária Resenha de Bolso, foi editor de cultura da revista Poleiro e colaborador de literatura no site da Piauí.

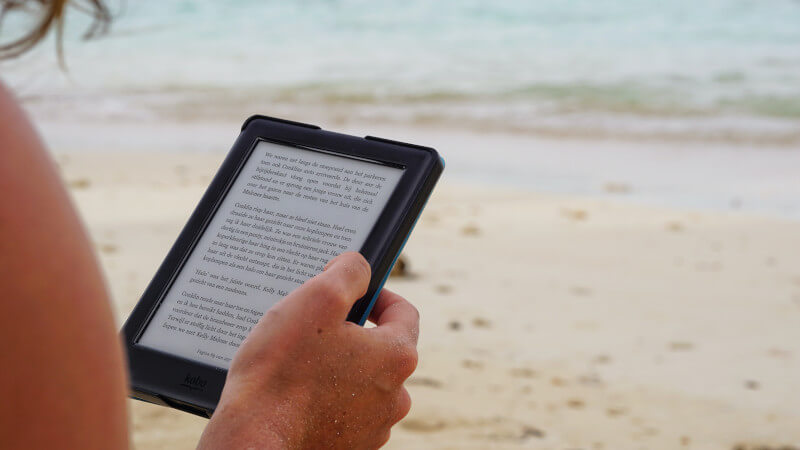








1 comentário