Zodíaco e o policial realista: a definição de um novo subgênero das narrativas policiais
Por Fernando Maia – Já tinha visto Zodíaco uma vez ainda em 2007, e embora não tenha desgostado, não era nada iniciado na mitologia da história relatada para considerá-lo o melhor filme policial da existência. Ainda assim, saí com alguma sensação estranha, perguntando-me o que o filme queria dizer. À primeira vista, realmente o filme é inconcluso e devidamente decepcionante no que se trata das expectativas que se têm comumente sobre um policial. Daí, segui minha vida normalmente e provavelmente não teria contato com o filme outra vez.
Entretanto, pra minha sorte, perto do final de 2009 estava eu numa situação meio involuntária de marasmo e ócio e o Cinemax resolveu passar Zodíaco de David Fincher pelo menos a cada três dias durante uns dois meses em horários diversos. Devo ter visto todas as vezes, no mínimo umas dez, quase sempre depois de o filme ter começado. A minha consideração não se deu porque o filme era violento ou caricato como “Seven” (mesmo diretor e certamente um bom filme) e muito menos porque a trama era tão bem feita e bisonha quanto a de “O código da Vinci” (de algum diretor e certamente uma porcaria). Considero Zodíaco uma aula de como se fazer cinema (direção de arte, fotografia, trilha sonora e finalmente direção geral) e uma introdução inteligentíssima ao estudo dos subgêneros da narrativa policial, ficcionais ou não. O filme se baseia numa história real e sequer cogita mudar os nomes dos personagens dela: vítimas, policiais e suspeitos. O efeito disso, somado a uma caracterização de época formidável, é arrebatador. Baseou-se também no livro de Robert Graysmith de mesmo título. Esse é um dos três protagonistas e é sob o ponto de vista dele que o enredo é contado. O meu problema aqui nesse artigo que segue é apresentar a introdução de que falei acima.
Primeiro vamos aos eventos reais
Uma série de homicídios ocorridos em São Francisco e outras cidades próximas do sul da Califórnia entre o final da década de 60 e início da de 70, cometidos por um cidadão indiscutivelmente muito psicótico que enviava cartas cifradas à polícia e a veículos de impressa e que resolveu se dar a alcunha de Zodíaco. As investigações levaram a uma infinidade de suspeitos, porém ninguém nunca foi condenado pelo caso. Um livro-reportagem foi escrito e virou best seller no início da década de 80.
Em 2007, David Fincher lançou Zodíaco no cinema. Alguém que assistir ao filme desinformado sobre a história, muito provavelmente achará que é uma ficção. Há muitos casos reais de homicidas seriais nos Estados Unidos, mas certamente o Caso Zodíaco, a se tomar pelos crimes (impressionantes apenas na torpeza, de fato), pelo impressionismo que o psicopata usava para se apresentar (a escolha de uma alcunha, as cartas cifradas, o uso de símbolos na vestimenta – como relataram alguns sobreviventes – citações a um filme cujo protagonista é um caçador de gente e por aí vai) e pela mitologia que surgiu depois é um dos que mais se parecem com uma história saída da cabeça de um autor bem imaginativo de narrativas policiais. Considero que a sacada do diretor em escolher fazer um filme sobre essa história passa por alguma interpretação desse tipo.
Mas vamos ao filme
Zodíaco começa num 4 de julho de 1969 com a cena do segundo ataque, no qual, em comunicação posterior à polícia o homicida se apresenta e confessa um outro ataque do ano anterior, dando detalhes apenas conhecidos pela polícia. A partir de então Fincher vai pôr em cena os três protagonistas. O primeiro, Paul Avery (Robert Downey Jr), é o editor da seção policial do San Francisco Chronicle. O segundo, Robert Graysmith – o escritor real do best seller – (Jake Gyllenhaal), é um cartunista do mesmo jornal que se interessa com alguma obsessão indevida pelo caso e o terceiro, Dave Toschi (Mark Ruffalo), investigador de homicídios da Polícia de São Francisco. Isso tudo foi estática, vamos à cinemática.
Os dois primeiros funcionam como representantes de dois subgêneros das narrativas policiais: Avery, da crônica policial, cuja versão ficcional é a narrativa de crime. Dedica-se ao caso para produzir notícias e não propriamente para resolvê-lo. Já Graysmth é um representante do subgênero clássico whodunnit ou do detetive consultor, guardadas as devidas diferenças em relação ao seu protótipo e criador do ofício, Sherlock Holmes. Empreende uma investigação amadora (no sentido mais exato de não-profissional) tentando desvendar um mistério perfeito. O terceiro, Toschi, representa um subgênero não muito propalado e talvez nem sequer definido apropriadamente, que é o policial realista. A investigação do caso e a tentativa de levar o criminoso à justiça não são um interesse em vender algo ou a tentativa de desvendar um mistério. São apenas atribuições normais do seu trabalho. Só como suplemento, Toschi está realmente interessado em levar à justiça um homicida que agiu numa área sob a sua jurisdição e por isso está fortemente preocupado com a produção de provas que possibilitem o caminhar do processo judicial pertinente.
Nesse ponto, precisamos de um adendo. Enquanto a lista de obras e autores (de cinema, de literatura ou de ambos) dos dois primeiros subgêneros é extensa e pouco discutível, proponho uma aqui para o terceiro, curta e extremamente discutível: na literatura os romances e contos com o Comissário Salvo Montalbano de Andrea Camillieri, Garcia Roza com o Delegado Espinosa e de alguma forma o policial nórdico (que eu chamo por minha própria conta de gris, como se fosse a mistura do noir com o branco da neve ártica). Na televisão diria que a série True Detective representa o subgênero. E já que tudo precisa de um pai fundador, o Comissário Maigret de Simenon pode ser o pai de tudo.
Para quem conhece essa lista, as diferenças entre essas obras são muito grandes, mas o meu ponto aqui é que todas elas tentam jogar com alguma verossimilhança entre a ficção que apresentam e a realidade do trabalho das instituições policiais reais e dos homens e mulheres que as fazem. Essa seria a definição primária do que entendo como policial realista. Mas voltemos ao filme.
O enredo fundamental é a caçada ao Zodíaco empreendida por esse três personagens e as interações (bilaterais) consequentes disso entre eles três. E daí, eis a dinâmica. É nessas interações que a genialidade de Fincher em trabalhar personagens simbólicos e representativos de uma série de contextos explode ao ponto de os seus personagens se tornarem os próprios arquétipos mais consistentes daquilo que supostamente representavam antes. Talvez em Zodíaco, não alcance essa genialidade sobre os dois primeiro símbolos – o cronista policial e o detetive consultor – entretanto, tal como consegue em a Rede Social (filme também sobre uma história real) chega à perfeição com Dave Toschi. Sobre as interações de que se falou acima, apresentarei trechos fundamentais e alguns dos diálogos da mesma estirpe que elucidarão o problema-foco dessa resenha.
Por volta do início do último terço do filme, Graysmith, prestes a entrar de vez na sua investigação, vai à casa de um Avery envelhecido, alcoólatra, drogado e em franca decadência profissional, na intenção de propor que um livro deveria ser escrito. O desdém do jornalista (nesse ponto demitido há muito tempo do Chronicle) já se inicia na primeira resposta, quando concorda que alguém deveria escrever um livro, mas pergunta, sobre o quê? Graysmith explica o seu plano de um livro sobre o Caso Zodíaco. Avery se recusa dizendo algo como ”não é mais notícia. Trabalhamos com atualidades”. É o cronista policial comunicando ao detetive consultor que o seu papel não é desvendar mistérios. Recomendo ao leitor que se atente à decepção que se queda sobre Graysmith, num dos pontos altos de Gyllenhaall na atuação que deve ser a melhor da sua carreira. Noutro trecho, anterior ao primeiro, Avery publica uma matéria sobre um homicídio supostamente cometido pelo Zodíaco numa cidade do norte da Califórnia, já próxima de Los Angeles. Toschi então vai a Riverside (a cidade), mas ao que pareceu as suposições de Avery não tinham nenhum fundamento e pior, atrapalhariam as investigações das polícias no sul da Califórnia. Nesse ponto do filme, Toschi e Avery se desentendem e acabam com quaisquer possibilidades de cooperação sobre o caso, o que antes do evento era a tônica da relação entre os dois.
Mas o grande debate do filme passa a se dar entre o detetive consultor e o policial realista. Antes de começar, peço ao leitor que imagine um debate hipotético entre Sherlock e o inspetor Lestrade da Scotland Yard e o mantenha em mente. Depois o compare ao debate entre Graysmith e Toschi que apresentarei então. O primeiro encontro entre os dois se dá depois de a justiça negar a Toschi a prisão de um suspeito de ser o Zodíaco por insuficiências de provas, e acontece na sala de espera do cinema em que ambos os personagens assistem a uma seção de Dirty Harry. Para quem não conhece, o filme é um hard-boiled de 71, em que o assassino manda cartas cifradas com chantagens à polícia e se dá o nome de Scorpio. Harry Callaghan (Clint Eastwood) é o policial truculento responsável por caçar o sujeito. A metalinguagem é utilizada perfeitamente aí, mas isso não é assunto urgente. Toschi sai da seção incomodado e Graysmith o segue. Esse se aproxima com a feição angustiada que exibe durante quase todo o filme e diz a Toschi algo como “o assassino morre com um tiro no peito”. Alguém passa e diz a Toschi: “Calahan fez um ótimo trabalho no seu caso, hein?”. Toschi replica com “nem precisou de um processo, não foi?”. Aqui fica claro qual o papel do policial realista definido por Fincher.
O segundo encontro entre os personagens aparece depois de um corte de quatro anos (o tempo diegético da obra se estende por quase vinte), e é posterior ao último diálogo entre Graysmith e Avery. O nosso detetive consultor (que diferentemente de Sherlock, nunca foi consultado pela polícia) vai à busca de Toschi na esperança de que o Caso Zodíaco se reavive. Toschi, que devidamente não se lembrou do primeiro encontro entre os dois, é no início desdenhoso e tal como Avery, alerta Graysmith de que o caso não está mais na agenda da polícia, dizendo algo como “já faz mais de quatro anos que ele não aparece. Nesse tempo mais de 200 pessoas foram assassinadas em São Francisco. Eu tenho trabalho a fazer”. O que parece acontecer, na verdade, decorre das circunstâncias incomuns sob que a série de homicídios ocorre. Os ataques se deram em várias cidades, cada uma com uma polícia diferente, que por uma miríade de problemas associados ao trabalho policial não conseguiram cooperar. Coisas como uma polícia ter um suspeito, contra o qual os indícios mais robustos estavam com outra. Como também o fato de, aparentemente, as vítimas terem sido escolhidas quase que aleatoriamente.Há o de São Francisco, em que o Zodíaco mata um taxista. Os outros quatro ataques oficialmente atribuídos ao psicopata foram a casais em áreas ermas. Nenhuma das vítimas nunca teve qualquer relação com outra, exceto, evidentemente, o algoz.
Como o filme e mesmo o livro de Graysmith relatam a confusão foi enorme, e isso naturalmente acabou atrapalhando o trabalho empreendido pelas polícias e pela justiça da Califórnia. Voltando ao diálogo, Toschi ainda tem uma fagulha de esperança de encerrar o seu caso, quando Graysmith se mostra realmente interessado. Por isso ele tenta ajudá-lo com a indicação dos policiais responsáveis pelas investigações nas outras cidades . A partir disso, o detetive consultor inicia efetivamente seu trabalho de investigação. Como não é profissional, ele tende a se fundamentar muito mais em elementos circunstanciais e mesmo pitorescos do caso do que na produção das provas que levariam o Zodíaco à justiça. E é nesse papel que a feição angustiada do ator se torna desesperada. O personagem ainda vai deteriorando a sua vida pessoal, numa obsessão bem típica de detetives ficcionais. Só que sem os atributos inumanos do análogo de Bakery Street B, o fracasso do seu trabalho soa retumbante. Até o ponto em que ele chega, num lance de sorte, ao nome do suspeito preferido de David Toschi: Artur Leigh Alley.
Cruzando informações do próprio arquivo e das polícias sobre o caso, Graysmith descobre a data de nascimento do suspeito. Ao se lembrar de um telefonema feito dez anos antes a um apresentador de TV, em que um suposto Zodíaco revela que é o dia do seu aniversário, ele fecha o arco investigativo típico do whodunnit. Desesperado, vai de madrugada à casa de Toschi, que já tinha sido retirado da investigação do caso. A sequência de diálogos que se segue entre os dois é monumental. De um lado Graysmith apresentando um resumo da investigação. Elementos circunstanciais e intuitivos pululam. Toschi rebate quase todos os argumentos pedindo provas técnicas e efetivas, evidências – impressões digitais, grafologia, testemunhas oculares, etc. Num ponto, o policial revela uma carta que recebera do suspeito. Graysmith o interpela dizendo “foi datilografada”. Toschi replica “isso não é crime, Robert”. A conversa continua num bar onde tomam café da manhã e Graysmith consegue apresentar um relato mais consistente e convincente com a conclusão de que Artur Leigh Alley era o Zodíaco. Toschi, estupefato, aceita a conclusão, mas insiste por provas. Graysmith insiste que ele admita a culpa de Alley e lhe fala:
– Não pergunto ao policial.
– Mas eu sou policial – Toschi responde. Então respira, encara Graysmith e desfecha serenamente
– Calma Dirty Harry. Acabe o livro.
Dave Toschi então passa a figurar como o protótipo do policial realista, subgênero, como disse, pouquíssimo propalado, talvez justamente porque lhe falta uma definição que o tome como tal. Deve-se pensar fundamentalmente, que embora Dave Toschi seja um personagem real, o de Fincher passa pelo seu filtro artístico e se torna naturalmente ficcional. E se Graysmith é o protótipo do irrealista detetive consultor ao menos nas suas intenções obsessivas, é Dave Toschi que o faz cair na real (sem trocadilho, claro). Não é o mote aqui, mas se há um conflito entre esses dois símbolos, ele termina com a vitória de Avery, ou do cronista policial. O livro que Graysmith publica é um típico documentário de crime que vendeu aos borbotões. Numa perspectiva mais ampla, entretanto, a vitória acaba sendo do Zodíaco, embora seja possível interpretar que o mistério foi desvendado por Graysmith – e a cena no finalzinho do filme em que o cartunista e Alley se encontram é inquietante – infelizmente o psicopata, cuja inteligência não é (e não havia de fato nenhum motivo pra ser) celebrada, nunca foi preso porque o Estado, amarrado no seu próprio realismo não pode fazer justiça. Em Dirty Harry, ele levou um tiro no peito. Se fosse um filme de Sir Doyle, provavelmente tudo teria sido obra de Moriarty, o antípoda de Sherlock, de inteligência também inumana. Entretanto, o que David Fincher acaba dizendo quando enfatiza as problemáticas reais do sistema de justiça para se tornar efetivo não é que o mal sempre vence. Mas sim que às vezes ele é tão torpe que pode vencer. E o papel da justiça (e da polícia no meio) é o de trabalhar para que isso não aconteça.
Fernando Maia é escritor. Publicou em 2014 o livro de contos Casos Recifenses, no qual apresenta o Investigador Scanoni. Nasceu e vive no Recife e é pai de Maria Flor.
Share this content:

Ana Paula Laux é jornalista e trabalha com curadoria de informação, gestão de mídias sociais e criação de conteúdo digital. Em 2014, lançou o e-book “Os Maiores Detetives do Mundo” (Chris Lauxx). Contato: [email protected]







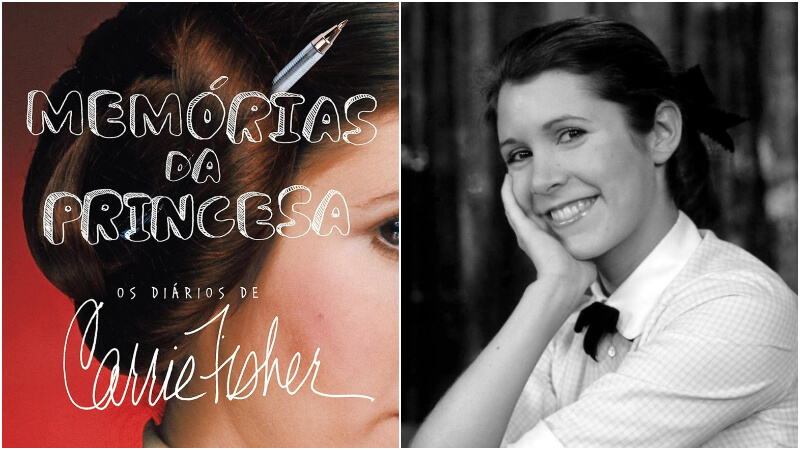






7 comments